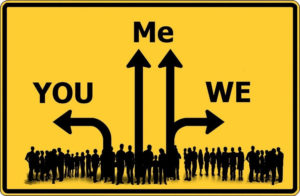Nas ações judiciais pelas quais os cidadãos pretendem receber do Poder Público tratamentos não disponíveis no SUS, três grandes questões normalmente precisam ser resolvidas. São elas:
- O tratamento postulado é realmente necessário e eficaz, considerando inclusive as alternativas terapêuticas já disponibilizadas no SUS?
- Quem é o ente federativo responsável pela sua dispensação?
- O valor do tratamento, inclusive em uma relação “custo x efetividade”, é um ponto a ser considerado para que se decida se o Poder Público deve ou não fornecê-lo? Se for, qual o seu limite?
Não se pretende, neste momento, adentrar nas nuances e nas diversas vertentes que cada uma dessas questões apresenta. Quem estiver interessado em se aprofundar nessas discussões tem muitos outros posts aqui no blog para se entreter.
O que este artigo quer demonstrar é que a jurisprudência do STJ e, principalmente, do STF – que vem abordando cada vez mais aspectos da judicialização da saúde – já confere critérios mais ou menos objetivos para nortear as decisões dos demais tribunais e juízes brasileiros em relação às questões 1 e 2, mas precisa, por outro lado, tratar com toda a prioridade possível a questão 3.
Antes de demonstrar a lacuna existente e o tamanho da sua relevância, é preciso enfatizar a importância da existência de diretrizes jurisprudenciais seguras a respeito dos aspectos envolvidos na judicialização da saúde.
Se a judicialização em si já traz impactos negativos para o sistema público de saúde como um todo (não se está a dizer que impactos positivos também não ocorram), eles serão tanto mais graves quanto maior a falta de critérios objetivos para a intervenção judicial nas políticas públicas existentes. É nesse aspecto que a atuação uniformizadora do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ganha fundamental papel.
Deixando de lado quaisquer considerações sobre o mérito das decisões em si, são muito bem vindas as teses que paulatinamente vêm sendo estabelecidas pelo STJ e pelo STF nos recursos repetitivos e representativos de controvérsia relacionados à judicialização da saúde. Foram essas teses, aliás, que buscaram definir critérios para que as questões 1 e 2, mencionadas logo no início deste texto, fossem resolvidas.
De fato, o STF já se manifestou mais de uma vez a respeito do dever de que se avaliem em Juízo a efetiva necessidade e a eficácia do tratamento médico reivindicado, bem como a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas no SUS (questão 1).
Na tese do Tema 1.1611“Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária”, ele consignou que o fornecimento em sede judicial de fármaco sem registro, mas com importação autorizada pela ANVISA, pressupõe a constatação da “imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Eis a tese:
“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
Já no julgamento do Tema 6/STF2“Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, embora a tese ainda esteja pendente de definição, ao menos sete ministros3aqueles cujos votos puderam ser verificados: Marco Aurélio, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski já se posicionaram no sentido de que o fornecimento do fármaco não padronizado pressupõe a constatação da necessidade do tratamento – com comprovação mediante prova técnica qualificada (medicina baseada em evidências) – e da inexistência de alternativas adequadas no SUS.
Nesta mesma linha, o STJ, no julgamento do Tema 1064“Obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS” estabeleceu que a o fornecimento de medicamentos não disponíveis no sistema público depende da “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
Dessa forma, mesmo sendo os critérios mais ou menos abstratos, é perfeitamente possível aos litigantes e ao julgador compreenderem que a concessão judicial de tratamento não disponível no SUS impõe que se verifique a comprovação de sua efetiva necessidade, bem como da inexistência de alternativas adequadas dentro do sistema público, tudo de acordo com as evidências médico-científicas.
No que diz respeito ao ente federativo obrigado a disponibilizar o tratamento médico (questão 2), a matéria foi objeto de tese específica firmada pelo STF no Tema 793, a qual dispõe que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
A tese acima gerou e ainda gera distintas linhas interpretativas cuja análise não cabe nos propósitos deste artigo. O que é importante observar é que, da forma como entendeu por bem, o Supremo Tribunal Federal preocupou-se em estabelecer os critérios a serem adotados pelos demais tribunais e juízos quanto à responsabilidade dos entes federativos pelo cumprimento das decisões judiciais de entrega de tratamentos não inseridos nas políticas públicas. Para uma compreensão mais profunda do entendimento da Corte, é indispensável a leitura do voto do min. Edson Fachin, relator para o acórdão.
Como se vê, a jurisprudência do STF e do STJ vem se empenhando em definir quando o fornecimento de um tratamento médico não disponível no SUS pode ser determinado judicialmente e quem é responsável por seu cumprimento. A grande lacuna que remanesce é aquela relativa à questão financeira: a que custo isso pode ser feito? Há um limite? Se há, qual é ele? Essa é a questão 3, que ainda não foi respondida.
A discussão sobre os custos dos tratamentos e seus impactos no orçamento público existe desde os primórdios da judicialização da saúde. Ela está inevitavelmente atrelada ao confronto argumentativo entre “reserva do possível” e “máxima efetividade dos direitos fundamentais”. O tema rendeu e ainda rende incessantes pesquisas, teses e obras jurídicas, além de debates jurisprudenciais. Aqui no blog, o(a) leitor(a) pode refletir um pouco mais sobre o assunto no post “A reserva do possível na assistência farmacêutica do SUS: A mariposa e a estrela”.
Na verdade, tudo o mais que se discute na judicialização da saúde acaba figurando como mecanismo de defesa da Administração contra o comprometimento de recursos públicos não reservados no orçamento da saúde. O que os entes federativos pretendem, ao fim e ao cabo, é que a intervenção judicial não acarrete maiores ônus financeiros ao Estado, até porque isso pode inclusive comprometer as políticas de saúde já existentes.
Mesmo neste cenário, não há, até o presente momento, uma definição jurisprudencial segura a respeito de eventuais limites financeiros à atuação do Poder Judiciário na judicialização da saúde.
É certo que a jurisprudência do STF, ao menos desde o julgamento da ADPF 45 (min. Celso de Mello), vem afastando alegações genéricas de escassez de recursos públicos (“reserva do possível”) como obstáculos à determinação de fornecimento de prestações não previstas nas políticas públicas de saúde. No entanto, isso não significa que a Corte Suprema entenda inexistir limite orçamentário algum à atuação jurisdicional.
De todas as teses firmadas pelo STJ e pelo STF em questões relacionadas à judicialização da saúde, nenhuma trata especificamente de eventuais limites a serem observados em relação ao custo dos tratamentos ou de sua ausência. Aparentemente, a situação não deverá mudar com a definição da tese do Tema 6/STF.
O seguinte quadro sintetiza os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos de alto custo estabelecidos por diversos Ministros do Supremo Tribunal Federal cujas manifestações já estão disponíveis ao público:

Como se vê, muitas são as condições propostas pelos Ministros, mas nenhuma delas relacionada a eventual custo do tratamento, o que chega a ser curioso, já que o tema em debate foi definido justamente como “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. Seria importante, então, que ao menos a definição de “alto custo” fosse abordada, já que ela é precisamente o objeto do tema.
Seria possível argumentar que se nem o STF, nem o STJ incluíram em seus diversos acórdãos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quaisquer referências a eventuais limites orçamentários à concessão judicial de tratamentos médicos não disponíveis no SUS, a conclusão seria a de que, de fato, os aspectos financeiros seriam irrelevantes para a solução dos casos. Realmente, caso se considere que os requisitos a serem observados são exclusivamente aqueles explicitados nas diversas teses, não deveriam os litigantes e os juízes preocupar-se com os custos do tratamento nas demandas judiciais.
A questão, entretanto, não é tão simples.
Em primeiro lugar, o próprio STF já se manifestou no sentido de que o elevado impacto financeiro do tratamento pode, sim, ser óbice à concessão judicial, ainda que em face de particularidades do caso concreto. A título de exemplo, tem-se a decisão do min. Luiz Fux na STP 856/RN, de 09/03/2022, na qual consta que:
(...)
À luz das premissas assentadas no julgamento do RE 855.178-ED, passo a analisar o caso concreto, pontuando que o valor da prestação de saúde no caso sub examine revela-se sobremaneira elevado proporcionalmente à capacidade econômica do Município requerente, de modo que, neste juízo não exauriente, revela-se a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público (à economia pública municipal), a ensejar o deferimento parcial da medida liminar.
Com efeito, dos elementos constantes nos autos e nos estritos limites da cognição possível em sede de incidente de contracautela, vislumbra-se a existência de plausibilidade na argumentação do requerente, no sentido de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de gerar desorganização financeira e orçamentária no âmbito da Administração do Município de Assú/RN, haja vista o seu porte atual. O imediato cumprimento da decisão impugnada representa grave risco à manutenção do equilíbrio das contas municipais, revelando-se imperiosa a parcial concessão da medida de liminar, a fim de que o juízo de origem proceda à devida delimitação da responsabilidade pela prestação entre os entes que compõem o SUS.
Além do mais, não se identifica na jurisprudência das cortes superiores uma corrente sustentando que o custo do tratamento não é um critério ao qual o julgador deva se atentar. Via de regra, as decisões apenas deixam de tratar da questão, atendo-se à necessidade do tratamento e à inexistência de alternativas no SUS. No entanto, a relevância do tema impede que conclusões sejam implícitas ou de difícil constatação.
Como já dito, os custos da judicialização sobre o orçamento da saúde e seus impactos na política pública existente são da essência dessa discussão. A preocupação com a repercussão financeira dos tratamentos não padronizados concedidos judicialmente nasceu com a judicialização da saúde e permanecerá sempre a ela umbilicalmente ligada. Não se pode esperar, então, que sua solução nos tribunais se dê por meras inferências ou, mais grave do que isso, que simplesmente seja contornada para que não precise ser decidida, seja para se estabelecer que aspectos financeiros do tratamento são irrelevantes para a aferição do direito individual dos demandantes, seja para se consignar que devem ser observados e, neste último caso, em que termos.
É fato que as decisões monocráticas e acórdãos das cortes superiores não vêm afastando o direito aos tratamentos requeridos tendo como base apenas o seu valor. O que aparenta ocorrer, entretanto, é que a questão não é enfrentada por ser absolutamente tormentosa e de dificílima solução. É até possível que a constante ausência de quaisquer referências, nas decisões, sobre a capacidade de absorção, pelo orçamento público, do valor dos tratamentos seja realmente porque o seu custo é considerado algo irrelevante para a solução das ações individuais, bastando que estejam demonstradas, por elementos técnicos e científicos robustos, a necessidade e eficácia do tratamento, bem como a ausência de alternativas terapêuticas no SUS. Ainda que a hipótese se confirme, a falta de um claro posicionamento neste sentido faz proliferar e se perpetuar a controvérsia jurisprudencial nos tribunais de segunda instância e nos juízos de primeiro grau.
Além do mais, não parece correto que se conclua automaticamente que a falta de consideração dos impactos financeiros de tratamentos concedidos judicialmente nos casos concretos que se apresentam às cortes superiores signifique que em nenhuma hipótese os custos da terapia devam ser tomados em consideração. A riqueza e a variabilidade das situações específicas, a rápida evolução da medicina e a assombrosa elevação dos preços das tecnologias em saúde que se dizem revolucionárias impõem, no mínimo, cautela na afirmação de que as questões orçamentárias não devem, em hipótese alguma, constituir óbice à concessão de tratamentos pela via judicial.
Imagine-se, hipoteticamente, que em pouco tempo surja um tratamento “revolucionário” que ofereça consideráveis chances (note-se bem: sem certeza) de se impedir por completo a progressão de uma doença degenerativa rara ao custo de vinte milhões de reais por paciente. A hipótese parece absurda, mas não é. Seria possível afirmar que a jurisprudência aceitaria a dispensação judicial sem qualquer consideração relacionada ao custo? É até possível que sim, mas a conclusão contrária também seria plausível.
Por outro lado, certamente o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, conscientes de que estarão a definir uma tese que vinculará todos os demais tribunais e juízes do país em casos futuros, analisarão de forma mais criteriosa eventuais limites financeiros à atuação do Poder Judiciário, o que poderá os levar à adoção de parâmetros econômicos a serem considerados, ainda que com certa dose de subjetividade a ser empregada em cada caso concreto.
Pronunciar-se expressamente a respeito da (ir)relevância de critérios econômicos na solução de processos individuais de saúde não significa empregar um raciocínio binário na busca da solução. Em tese, os parâmetros financeiros de análise podem ser agregados a outros critérios que também devam ser considerados, numa espécie de análise de relação custo x efetividade do tratamento.
Mesmo que as cortes superiores não estabeleçam balizas objetivas e rígidas de apuração desta relação – o que, aliás, seria o mais provável de acontecer -, o simples fato de decidir que os demais juízes devem ou não devem levar em consideração, no julgamento dos casos concretos, os custos do tratamento em comparação com os benefícios esperados já seria um avanço na busca pela segurança jurídica.
É de suma relevância, ainda, que se defina se o Poder Judiciário está vinculado às conclusões da Conitec de que a incorporação de determinada tecnologia ao SUS não é recomendada por questões orçamentárias ou de relação custo x efetividade desfavorável. O STF vem paulatinamente adotando maior deferência judicial às análises científicas da Anvisa e da Conitec no registro e na incorporação de novos tratamentos de saúde ao SUS, sem que se trate, entretanto, do grau de deferência a ser adotado em relação às análises econômicas, que também são atribuição legal da agência de avaliação de tecnologias em saúde do SUS.
De fato, o art. 19-O, parágrafo único, da Lei nº 8.080/90 estabelece que os medicamentos incorporados ao SUS “serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo”.
O art. 19-Q, §2º, II, por sua vez, dispõe que os relatórios de recomendação da Conitec deverão levar em consideração, necessariamente, “a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível”.
Por fim, o parágrafo terceiro do art. 19-Q da Lei nº 8.080/90, recentemente acrescentado pela Lei nº 14.312/2022, proporcionará um considerável incremento no grau de tecnicidade e na objetividade das análises de custo x efetividade feitas pela Conitec ao impor que “as metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso II do § 2º deste artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios”.
Como se pode perceber, a capacitação e a competência da Conitec no processo de incorporação de novas tecnologias de saúde ao SUS não se restringe à análise das evidências científicas do tratamento em si. Elas também incluem a avaliação econômica e de custo x efetividade dos novos tratamentos, que sem dúvida alguma impõe conhecimento técnico especializado que o Poder Judiciário não tem e que, via de regra, não é suprido por provas periciais médicas ou notas técnicas emitidas pelos diversos Núcleos de Apoio Técnico (NAT’s) que assessoram os juízes nas demandas de saúde.
A questão que precisa ser resolvida, então, é a seguinte: no julgamento das ações individuais de saúde, exige-se a mesma deferência do Poder Judiciário tanto em relação às análises científicas das tecnologias em saúde quanto em relação à avaliação econômica feita pela Conitec?
É importante que a resposta seja dada de forma clara e objetiva pelas cortes superiores, porque inferências jurisprudenciais indiretas ou, o que é ainda mais problemático, a simples omissão no trato da questão financeira impede que se atinja o grau possível e desejado de segurança jurídica.
Não é o propósito deste artigo defender a melhor solução a ser adotada, até porque são vastas as pesquisas e os ensaios jurídicos que investigam a relação entre a “reserva do possível” e a “máxima efetividade do direito à saúde”.
O que se pretende, aqui, é apenas alertar para a importância de que nossas cortes superiores definam de forma clara:
- se o Poder Judiciário deve ou não levar em consideração o custo do tratamento nas ações individuais, inclusive prestando ou não deferência às recomendações da CONITEC; e, em caso positivo,
- quais são os critérios a serem adotados nessa análise.
Ao resolverem esses pontos tão sensíveis na judicialização da saúde, a cúpula do Poder Judiciário dará um grande passo rumo à segurança jurídica e ao trato sistêmico de um problema que tanto aflige os gestores e procuradores públicos, os magistrados e os cidadãos.
Imagem do Post:Salmen Bejaoui